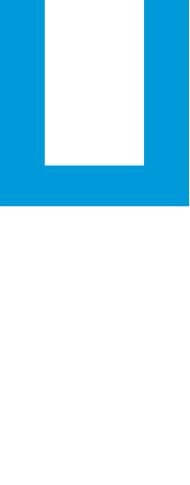Entenda a disputa em torno do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) e como empresas buscam no Judiciário a manutenção da alíquota zero até 2027.
O Contexto: do socorro à incerteza
O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi instituído pela Lei nº 14.148/2021 como resposta aos impactos devastadores da pandemia sobre eventos, turismo e entretenimento. O regime prometeu a redução a zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por 60 meses, garantindo fôlego financeiro a empresas que, em muitos casos, chegaram à beira da insolvência.
Contudo, alterações legislativas posteriores – notadamente a Lei nº 14.859/2024 e a edição da Instrução Normativa RFB nº 2.195/2024 – introduziram restrições que comprometeram a previsibilidade do benefício. Ao impor limites de renúncia fiscal e condicionar a habilitação a novos requisitos, o Estado abriu um flanco de insegurança jurídica, obrigando empresas a recorrerem ao Judiciário para assegurar a continuidade da desoneração até fevereiro de 2027, como previsto originalmente.
A Decisão Judicial e sua Repercussão
Nesse cenário, uma decisão obtida pelo Chambarelli Advogados em favor de uma empresa de agenciamento de atletas profissionais (processo nº 5002027-22.2025.4.02.5101) firmou um precedente de grande relevância. A 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro reconheceu que a alteração promovida pela Lei nº 14.859/2024 viola o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do STF, assegurando à impetrante o direito de continuar usufruindo da alíquota zero até 2027.
A sentença, assinada pela Juíza Federal Simone de Fátima Diniz Bretas, ganhou destaque na imprensa jurídica, sendo noticiada tanto no ConJur quanto no JOTA, ampliando o debate sobre os limites da atuação do legislador na revisão de benefícios fiscais previamente concedidos por prazo certo e mediante condições onerosas.
Isenção ou Alíquota Zero? A controvérsia conceitual
O cerne da disputa repousa na distinção doutrinária entre isenção e alíquota zero. A Receita Federal sustenta que o benefício do PERSE seria mera alíquota zero, instituto passível de revogação sem a proteção do art. 178 do CTN. O Judiciário, entretanto, vem consolidando o entendimento de que a exoneração, ao ser concedida por prazo certo e sob condições onerosas – como habilitação formal, enquadramento em CNAE específico e regularidade fiscal –, reveste-se das mesmas características de uma isenção condicionada, blindada contra supressões arbitrárias.
Tal interpretação reforça a ideia de que não se trata de um privilégio gracioso, mas de um incentivo setorial, concedido mediante contrapartidas dos contribuintes e que não pode ser reduzido unilateralmente pelo Estado antes do prazo originalmente pactuado.
A Crítica Institucional: previsibilidade e confiança
O caso expõe uma tensão clássica do sistema tributário brasileiro: a busca por equilíbrio fiscal de um lado e a necessidade de segurança jurídica de outro. Se, por um lado, é legítimo ao Estado rever políticas de renúncia, por outro, a supressão de benefícios concedidos por prazo certo mina a confiança dos contribuintes, viola a boa-fé objetiva e compromete a estabilidade das relações econômicas.
A sentença da Justiça Federal do Rio de Janeiro ecoa justamente nesse ponto: empresas que remodelaram sua estrutura financeira e assumiram compromissos contando com a vigência do PERSE até 2027 não podem ser surpreendidas com a retirada abrupta do incentivo. O princípio da proteção da confiança legítima, derivado do Estado de Direito (art. 1º da CF/88), exige que o legislador respeite expectativas juridicamente consolidadas.
Conclusão: o PERSE e a reconstrução da previsibilidade
O debate sobre o PERSE transcende a questão setorial e se insere em uma discussão mais ampla sobre a qualidade do ambiente regulatório brasileiro. Ao garantir a manutenção do benefício fiscal até 2027, a decisão judicial reafirma que a previsibilidade tributária não é concessão política, mas um imperativo de justiça fiscal.
Para o setor de eventos, a batalha judicial pela preservação do PERSE representa não apenas a defesa de um incentivo, mas a própria sobrevivência econômica de milhares de empresas. Para o Direito Tributário, o caso reafirma a centralidade da segurança jurídica como vetor interpretativo, capaz de conter avanços arbitrários do poder público sobre legítimas expectativas privadas.