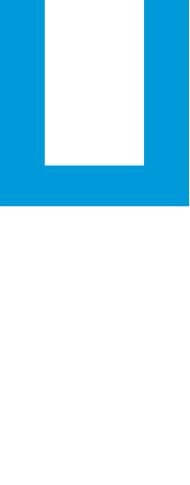A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que incide Imposto de Renda sobre diversas verbas pagas a pessoa física por ocasião da rescisão unilateral e imotivada de contrato civil de prestação de serviços, ao entender que tais valores configuram acréscimo patrimonial.
O julgamento ocorreu no Recurso Especial 1.409.762/SP, com acórdão publicado em 12 de fevereiro de 2026, sob relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura.
A decisão traz repercussões relevantes para executivos, prestadores de serviços estratégicos, empresas multinacionais e startups que estruturam pacotes de remuneração variável, especialmente quando há pagamento de PLR, bônus, indenizações e compensações por perda de stock options no momento da ruptura contratual.
O ponto central: natureza econômica e acréscimo patrimonial
A controvérsia girava em torno da aplicação da isenção prevista no art. 6º, V, da Lei nº 7.713/1988, invocada pelo contribuinte sob o argumento de que as verbas teriam natureza indenizatória.
O STJ, contudo, reafirmou que a incidência do Imposto de Renda deve ser aferida com base no art. 43 do Código Tributário Nacional, que define como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
Segundo o entendimento vencedor, o critério determinante não é a nomenclatura contratual, mas a existência de ingresso de riqueza nova no patrimônio do beneficiário.
Verbas consideradas tributáveis pelo STJ
A Turma reconheceu a incidência de IR sobre as seguintes parcelas:
1. Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Embora a PLR possua disciplina específica, o Tribunal entendeu que, no caso analisado, tratava-se de verba com natureza remuneratória, vinculada ao desempenho individual e aos resultados empresariais. Assim, representaria acréscimo patrimonial tributável.
2. Bônus de performance individual
O bônus foi qualificado como contraprestação ligada à performance, com inequívoco caráter remuneratório, ainda que pago no contexto de rescisão contratual.
3. Indenização por outplacement (quando convertida em dinheiro)
Quando o benefício de recolocação profissional é convertido em pagamento pecuniário, há vantagem econômica mensurável, atraindo a incidência do Imposto de Renda.
4. Compensação pela perda de stock options
O pagamento em dinheiro para compensar a perda do direito de exercer opções de compra de ações foi considerado substitutivo de potencial ganho de capital.
O STJ alinhou-se ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.226 do STJ, segundo o qual ganhos decorrentes de stock options podem ser tributáveis quando configurarem efetiva vantagem econômica.
5. 13º salário pago na rescisão
A Turma reiterou a jurisprudência de que o 13º salário possui natureza salarial e representa acréscimo patrimonial, mesmo quando pago no contexto de rompimento contratual.
Verbas que não foram tributadas no caso
O Tribunal não conheceu do recurso quanto ao aviso prévio indenizado, em razão de ausência de interesse processual e inexistência de retenção na fonte, além de já haver previsão legal de isenção.
Também não houve análise sobre férias proporcionais e terço constitucional, diante de juízo de retratação do tribunal de origem que já havia afastado a tributação dessas verbas.
Cláusula penal compensatória e prefixação de perdas e danos
Um ponto sensível da decisão foi a qualificação de determinados pagamentos como cláusula penal compensatória.
Para o STJ, valores pactuados contratualmente para hipótese de rescisão unilateral configuram prefixação de perdas e danos e representam ingresso de riqueza nova no patrimônio do beneficiário.
Essa interpretação amplia a incidência do Imposto de Renda sobre verbas que, sob a ótica civil, poderiam ser descritas como indenizatórias.
Impactos práticos para empresas e executivos
A decisão impõe cautela redobrada na estruturação de contratos civis de alta administração, consultoria estratégica e prestação de serviços por executivos.
Entre os principais impactos:
-
Revisão de cláusulas de rescisão unilateral e cláusula penal;
-
Reavaliação da modelagem de bônus e PLR em contratos civis;
-
Estruturação cuidadosa de planos de stock options;
-
Planejamento tributário na negociação de pacotes de desligamento.
Empresas que operam com estruturas híbridas — especialmente startups, grupos familiares e multinacionais — devem alinhar suas políticas de remuneração variável à jurisprudência consolidada do STJ, evitando riscos de autuações e contingências fiscais futuras.
Uma tendência de interpretação econômica
O julgamento reforça uma tendência jurisprudencial clara: prevalece a análise econômica da operação sobre a qualificação formal atribuída pelas partes.
O foco está na existência de acréscimo patrimonial efetivo, o que pode impactar não apenas rescisões contratuais, mas também reorganizações societárias, liquidação de planos de incentivo e acordos de saída.
Conclusão
A decisão da Segunda Turma do STJ consolida entendimento restritivo quanto à aplicação de isenções em matéria de Imposto de Renda, reafirmando que verbas pagas na rescisão contratual podem ser tributáveis quando representarem ingresso de riqueza nova.
Para executivos e empresas, o cenário exige planejamento técnico e análise estratégica da natureza das verbas pactuadas, especialmente em contratos civis que envolvam remuneração variável, cláusulas penais e instrumentos de incentivo societário.
O time do Chambarelli Advogados acompanha de forma permanente a evolução da jurisprudência tributária e está à disposição para revisar contratos, estruturar planos de remuneração e mitigar riscos fiscais associados a pacotes de desligamento e incentivos de longo prazo.