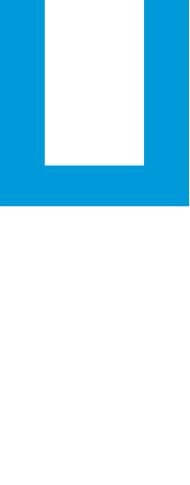O mercado de apostas esportivas no Brasil passou de um espaço de incerteza jurídica para um setor regulado e de impacto econômico expressivo. A Lei nº 14.790/2023 estruturou um marco regulatório abrangente, reconhecendo o apostador como consumidor e atribuindo às empresas de apostas obrigações de governança, integridade e responsabilidade social.
Com a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), o Estado passou a centralizar a autorização, a fiscalização e a regulamentação das plataformas, exigindo das operadoras não apenas a observância fiscal, mas também a adequação a parâmetros de compliance cada vez mais rigorosos.
O que significa compliance no setor de apostas
Compliance, nesse contexto, não é mera obediência formal à lei. Trata-se de um compromisso institucional com a integridade, a prevenção de riscos e a proteção dos consumidores. Para o setor de apostas, o compliance deve articular três dimensões:
-
Integridade operacional – sistemas de apostas auditáveis, livres de manipulação e com certificações técnicas obrigatórias.
-
Proteção do consumidor – políticas de jogo responsável, limites voluntários de gastos, ouvidoria eficaz e transparência nas regras.
-
Prevenção de ilícitos financeiros – mecanismos de monitoramento e controles internos voltados à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo.
Requisitos de adequação
As empresas que desejam atuar de forma regular no Brasil devem observar um conjunto de requisitos obrigatórios, entre os quais se destacam:
-
Ouvidoria independente, com canais acessíveis aos apostadores.
-
Políticas de integridade e jogo responsável, com medidas de prevenção à ludopatia e proteção de grupos vulneráveis.
-
Controles internos robustos, compatíveis com o porte da operação.
-
Programas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
-
Capital social mínimo e requisitos societários adequados.
-
Operação exclusivamente em domínios “.bet.br”, conferindo rastreabilidade às plataformas.
-
Certificações técnicas e auditoria independente periódica.
-
Cadastro na plataforma consumidor.gov.br, assegurando canal oficial de atendimento.
Lacunas e desafios
Apesar do avanço normativo, a execução prática ainda enfrenta obstáculos. O foco excessivo na arrecadação, a centralização das decisões na esfera fiscal e a baixa articulação com áreas como saúde e defesa do consumidor limitam a efetividade da regulação. O resultado é um cenário em que direitos do usuário permanecem genéricos, enquanto práticas abusivas e plataformas ilegais persistem.
Essa fragilidade regulatória tem levado à crescente judicialização, com ações civis públicas movidas por órgãos de defesa do consumidor e Ministérios Públicos, que denunciam publicidade enganosa, indução ao endividamento e falhas de proteção social.
O papel estratégico do compliance
Nesse ambiente, as operadoras devem compreender o compliance como ativo estratégico. Boas práticas de governança, relatórios de responsabilidade social, acolhimento a consumidores vulneráveis e educação financeira são instrumentos que não apenas reduzem riscos jurídicos, mas também fortalecem a reputação institucional e a confiança pública.
Conclusão
A legalização das apostas esportivas no Brasil é irreversível, mas sua sustentabilidade depende da consolidação de modelos de compliance robustos. Não basta atender às exigências formais: é necessário alinhar governança corporativa, integridade operacional e responsabilidade social.
No Chambarelli Advogados, oferecemos assessoria especializada para empresas do setor de apostas, auxiliando na implementação de programas de compliance que conciliam adequação regulatória, gestão de riscos e sustentabilidade empresarial. Nosso compromisso é transformar desafios regulatórios em vantagem competitiva para os nossos clientes.