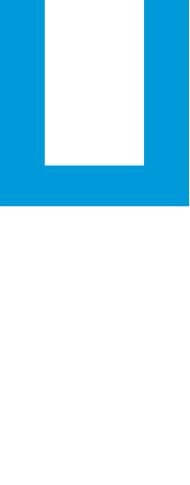A Lei nº 15.270 de 2025 representa uma das maiores transformações no sistema tributário brasileiro das últimas décadas. Com o objetivo de aumentar a progressividade do imposto e reduzir a carga sobre as rendas baixas e médias, o Governo Federal instituiu novas regras para lucros, dividendos e altas rendas.
No Chambarelli Advogados, preparamos este guia essencial para que você entenda como essas mudanças impactam seu patrimônio a partir de 2026.
1. Tributação de Lucros e Dividendos para Residentes no Brasil
A partir de janeiro de 2026, a distribuição de lucros por empresas brasileiras (inclusive as do Simples Nacional) deixará de ser isenta em todos os casos.
-
Regra de Isenção: Pagamentos de até R$ 50.000,00 por mês, feitos por uma mesma empresa a uma mesma pessoa física, continuam isentos de retenção na fonte.
-
Alíquota de 10%: Caso o valor mensal supere R$ 50 mil, a empresa deve reter 10% de IRRF sobre o valor total pago.
-
Prazo de Recolhimento: O imposto deve ser pago até o último dia útil do segundo decêndio do mês seguinte ao pagamento.
2. Tributação Anual de Altas Rendas
A lei cria um regime específico para quem recebe rendimentos anuais superiores a R$ 600.000,00.
-
Nesse caso, os lucros e dividendos recebidos ao longo do ano devem ser declarados no ajuste anual.
-
O imposto de 10% retido na fonte poderá ser deduzido do valor final apurado no regime de altas rendas.
-
Se a renda total for inferior a R$ 600 mil, o contribuinte poderá até solicitar a restituição do imposto retido sobre dividendos.
3. Investidores e Sócios no Exterior (Não Residentes)
As regras para quem mora fora do Brasil são mais rígidas e entram em vigor também em janeiro de 2026.
-
Sem Isenção: Não existe o limite de R$ 50 mil; qualquer valor enviado ao exterior sofre tributação.
-
Alíquota Geral: 10% sobre o valor remetido, creditado ou entregue.
-
Países com Tributação Favorecida: A alíquota de 10% também se aplica a residentes em países que não tributam a renda ou o fazem com alíquota inferior a 17%.
4. Oportunidade Estratégica: A Regra de Transição até o fim de 2025
Uma das informações mais relevantes para o planejamento atual é que lucros apurados até 2025 podem permanecer isentos, desde que cumpram três requisitos:
-
Origem: Devem ser lucros relativos a resultados apurados até o ano-calendário de 2025.
-
Aprovação: A distribuição deve ser aprovada pelo órgão competente (Assembleia ou Reunião de Sócios) até 31 de dezembro de 2025.
-
Prazo de Pagamento: O pagamento efetivo deve ocorrer conforme o cronograma aprovado até o ano de 2028.
Dica para 2025:
Empresas que ainda não fecharam o balanço de 2025 podem utilizar balanços intermediários (de janeiro a novembro) para aprovar a distribuição ainda este ano e garantir a isenção tributária para o futuro.
5. Capitalização de Lucros
Incorporar o lucro ao capital social também é considerado uma forma de “emprego” do recurso e será tributado em 10% a partir de 2026. No entanto, se essa capitalização for deliberada e aprovada até 31/12/2025, ela segue a regra de isenção.
Precisa de auxílio para o seu planejamento tributário? A equipe do Chambarelli Advogados está pronta para analisar sua estrutura societária e garantir que você aproveite as janelas de oportunidade legislativas antes das mudanças de 2026.