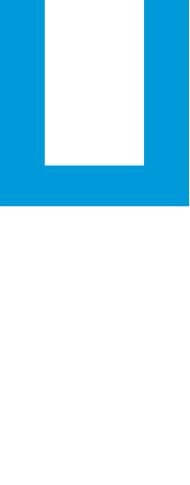Na rotina de investidores e contribuintes que operam no mercado financeiro ou realizam alienações patrimoniais relevantes, uma dúvida recorrente pode gerar implicações fiscais significativas: qual a diferença entre ganho de capital e ganho líquido em operações com ativos financeiros? Mais do que uma questão semântica, a resposta define o enquadramento legal da operação e a alíquota aplicável do Imposto de Renda.
Embora ambos os conceitos envolvam resultado positivo em alienações, o ganho de capital está relacionado à venda de bens e direitos de qualquer natureza, fora do ambiente de bolsa, como imóveis, participações societárias, cotas de fundos fechados e até criptomoedas. Já os ganhos líquidos referem-se especificamente aos resultados de operações realizadas no mercado financeiro organizado, como as bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
A principal diferença entre eles está na forma de apuração e na alíquota:
-
O ganho de capital é tributado de forma progressiva, com alíquotas que variam de 15% a 22,5%, conforme o valor do ganho apurado no mês, conforme o art. 21 da Lei nº 8.981/1995.
-
O ganho líquido, por outro lado, é tributado a uma alíquota fixa de 15%, ou de 20% no caso de operações day trade, como determina o art. 2º da Lei nº 11.033/2004.
Essa distinção foi recentemente reafirmada pela Receita Federal por meio da Solução de Consulta COSIT nº 127/2024, que esclareceu que os dois tipos de ganhos decorrem de fatos geradores distintos e, por isso, não se confundem nem se sobrepõem.
Segundo o entendimento da Receita, operações em bolsa, mesmo que ultrapassem R$ 5 milhões em lucros mensais, continuam sujeitas à alíquota fixa de 15% (ou 20% no caso de day trade) — sem escalonamento progressivo. Já a alienação de bens fora do mercado financeiro segue a tabela progressiva aplicável ao ganho de capital.
Outro ponto importante abordado é o conceito legal de day trade, previsto no art. 8º, §1º, I, “a”, da Lei nº 9.959/2000: operação iniciada e encerrada no mesmo dia, com o mesmo ativo e intermediada pela mesma instituição. Esse tipo de operação possui tratamento específico e é sempre tributado à alíquota superior de 20%.
Implicações práticas
Para quem investe de forma diversificada, a distinção pode representar diferença relevante na carga tributária. Um investidor que, por exemplo, realize no mesmo mês:
-
a venda de um imóvel com lucro de R$ 7 milhões, e
-
a venda de ações em bolsa com lucro de R$ 7 milhões,
será tributado de forma distinta em cada operação, ainda que os valores envolvidos sejam idênticos.
O primeiro resultado será tributado de forma escalonada, chegando a 17,5% de IR, enquanto o segundo estará sujeito a alíquota fixa de 15%, independentemente do valor. Se for day trade, a alíquota sobe para 20%.
Conclusão
A diferença entre ganho de capital e ganho líquido em bolsa não é apenas técnica: é decisiva para o planejamento tributário. A Receita Federal tem reiterado esse entendimento, deixando claro que cada hipótese possui regras próprias e alíquotas distintas — e a escolha equivocada pode gerar autuações, multas e prejuízos.
Saber onde se está operando, qual o tipo de ativo envolvido e como enquadrar cada resultado é essencial. Em tempos de alta fiscalização e digitalização dos cruzamentos fiscais, a ignorância da distinção pode custar caro — mas o conhecimento certo gera economia e segurança jurídica.