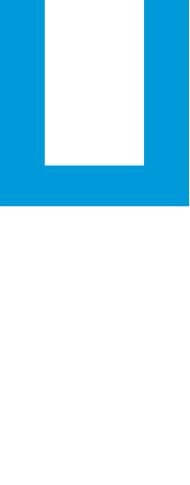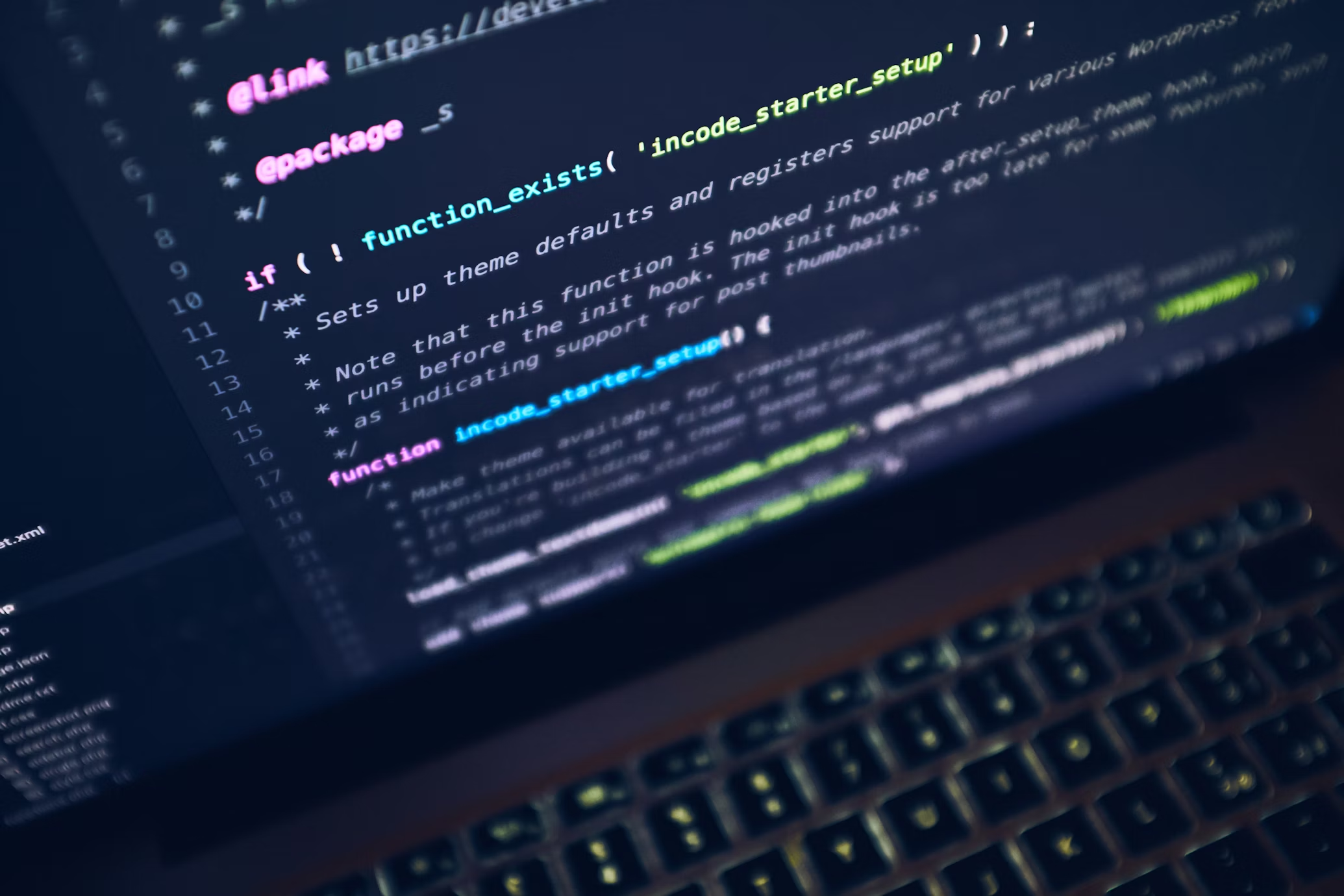A tributação da atividade de licenciamento ou cessão de direito de uso de software, tema de notória instabilidade jurídica, sofre nova inflexão interpretativa com a Solução de Consulta COSIT nº 120/2025. Em uma guinada que mais revela as tensões entre segurança jurídica e eficácia fiscal do que propriamente uma evolução dogmática coerente, a Receita Federal do Brasil (RFB) consolidou o entendimento de que receitas provenientes de softwares padronizados ou customizados em pequena extensão devem ser submetidas à presunção de 32% para fins de IRPJ e CSLL no regime do lucro presumido.
A decisão não surpreende quanto ao conteúdo, mas impõe uma reflexão densa quanto à forma e ao tempo de sua aplicação — matéria na qual o ordenamento, por mais que tente, ainda hesita entre os postulados da legalidade e as conveniências da administração.
A origem do problema: a ficção da neutralidade tecnológica
Historicamente, a distinção entre software “de prateleira” e software “por encomenda” desempenhou papel central na definição das incidências de ICMS e ISS. Esta dicotomia, inicialmente erigida com base em premissas técnico-contratuais (dar x fazer), passou a ancorar também a definição dos percentuais de presunção no IRPJ e na CSLL.
Com a jurisprudência do STF — em especial nas ADIs 1.945 e 5.659 — sinalizando a superação da referida distinção e consolidando o entendimento de que o licenciamento de software, ainda que padronizado, configura prestação de serviço sujeita ao ISS, a Receita Federal revê seus posicionamentos anteriores e reconhece que tais receitas não se equiparam mais à “venda de mercadoria”.
A nova presunção: 32% para IRPJ e CSLL
A Solução de Consulta COSIT nº 120/2025 confirma a adoção da alíquota de presunção de 32% tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, nos termos dos arts. 15, §1º, III, “a”, e 20, I da Lei nº 9.249/1995.
A racionalidade da mudança repousa no novo enquadramento da atividade como prestação de serviço, afastando o uso das presunções de 8% e 12%, anteriormente aplicáveis às receitas de comercialização de bens (inclusive software não customizado). Trata-se de reconhecer que, mesmo em modelos padronizados, a operação empresarial não se esgota em uma cessão estática de bem intangível, mas envolve prestação continuada de suporte, atualizações, manutenção e infraestrutura tecnológica — atividades inegavelmente caracterizadas por esforço humano.
Segurança jurídica e modulação: aplicação prospectiva e vinculação coletiva
Diferentemente de um precedente judicial, a mutação de entendimento em sede de Solução de Consulta levanta legítima preocupação sobre sua aplicação retroativa. Aqui, a RFB afasta expressamente a incidência dos princípios da anterioridade anual (IRPJ) e nonagesimal (CSLL), por entender que não se trata de inovação legislativa, mas de alteração interpretativa.
Contudo, e aí reside o ponto de equilíbrio institucional, a própria Receita invoca o art. 26 da IN RFB nº 2.058/2021 e o art. 1º do Ato Declaratório Interpretativo nº 4/2022 para assegurar que o novo entendimento somente surtirá efeitos para fatos geradores ocorridos após sua publicação oficial (15/02/2023). Ainda que não derive da Constituição, trata-se de concretização administrativa do princípio da proteção da confiança — limitando o poder fiscalizatório retroativo e proporcionando estabilidade mínima ao contribuinte.
E mais: a solução vincula a própria administração tributária e se aplica, inclusive, aos contribuintes que não formularam consulta, desde que se encontrem em situação fática idêntica. Aqui, não se trata de prerrogativa individual, mas de um novo referencial normativo institucionalizado.
Atividades concomitantes: segregação obrigatória da receita
Outro ponto relevante confirmado pela COSIT nº 120/2025 diz respeito à obrigatoriedade de segregação das receitas por tipo de atividade exercida. Consoante o §2º do art. 15 da Lei nº 9.249/1995, a apuração deve ser feita com base na atividade específica, aplicando-se o respectivo percentual de presunção sobre a receita bruta auferida em cada uma.
A consequência lógica é que empresas que exploram tanto atividades de licenciamento de software quanto de, por exemplo, intermediação de negócios ou consultoria, deverão manter contabilidade segregada, sob pena de sofrer autuação por glosa da presunção mais favorável.
O papel das soluções de consulta na arquitetura da tributação contemporânea
Mais do que atos administrativos isolados, as soluções de consulta revelam o caráter evolutivo e dialógico da interpretação tributária. Não representam apenas resposta a um sujeito passivo, mas refletem, cada vez mais, uma política institucional da Receita Federal sobre os contornos aplicáveis à incidência de tributos federais.
A COSIT nº 120/2025, ao formalizar a viragem interpretativa, deixa nítido que o problema tributário não reside mais na tipologia do software, mas na natureza da atividade econômica desenvolvida. O modelo de negócio contemporâneo — ancorado em cloud computing, licenças SaaS e serviços de TI — exige um olhar funcional sobre a operação, superando a obsessão por categorias contratuais estanques.
Considerações finais
A mudança de entendimento consolidada na Solução de Consulta COSIT nº 120/2025 representa mais do que um ajuste técnico na apuração do lucro presumido: é a reafirmação de que a tributação deve se alinhar à realidade econômica subjacente às operações.
No entanto, ao reconhecer a mutabilidade dos referenciais interpretativos, reforça-se a necessidade de ferramentas jurídicas estáveis que assegurem previsibilidade ao contribuinte. O princípio da segurança jurídica, ainda que mitigado nos seus contornos formais, permanece como norte para o direito tributário em sua função regulatória e garantista.
Nesse cenário, é essencial que empresas de tecnologia e licenciamento de software revisitem sua estrutura contábil, tributária e contratual, de modo a compatibilizá-las com a nova leitura institucional da Receita Federal — sem perder de vista a complexidade dos modelos híbridos e a persistente zona de penumbra normativa em que ainda se movem.
Chambarelli Advogados atua estrategicamente na estruturação tributária de empresas de tecnologia, oferecendo segurança jurídica e planejamento fiscal eficaz para operações de licenciamento e desenvolvimento de software.
Precisa rever os percentuais de presunção aplicáveis à sua operação de software? Fale conosco.